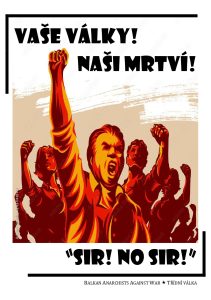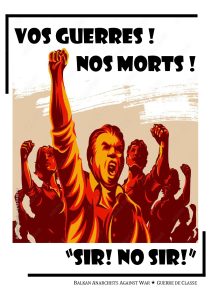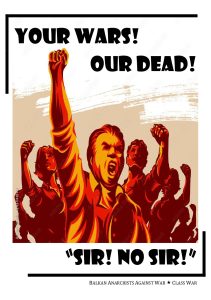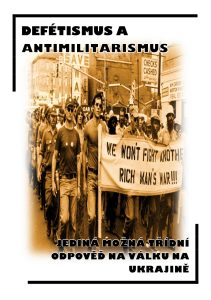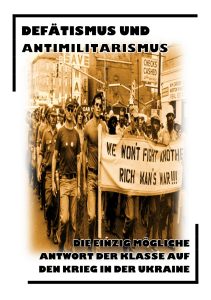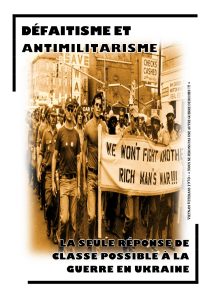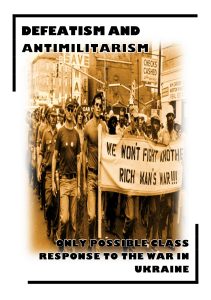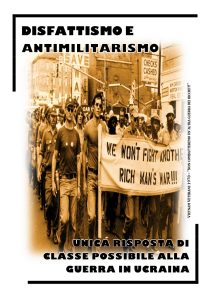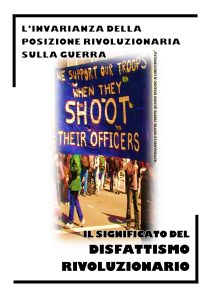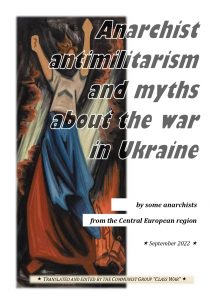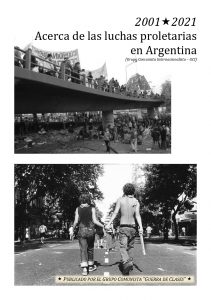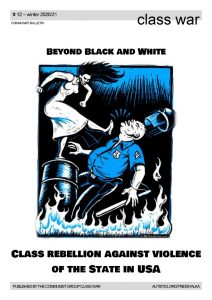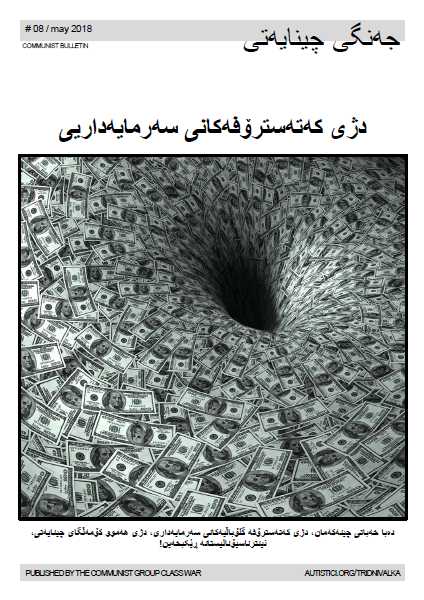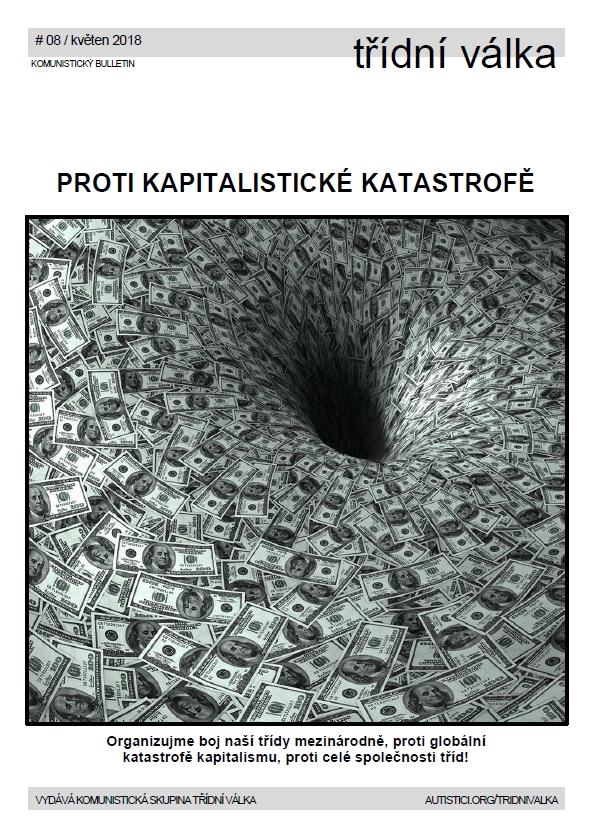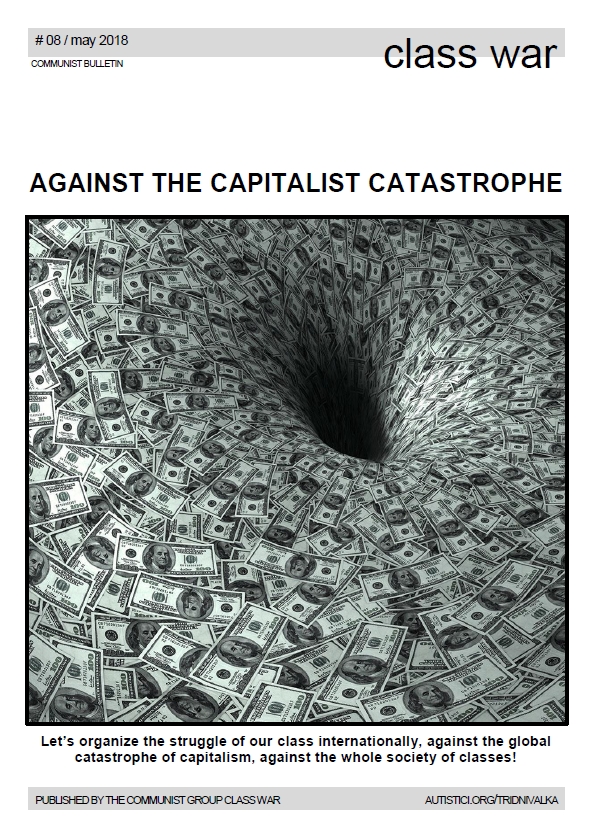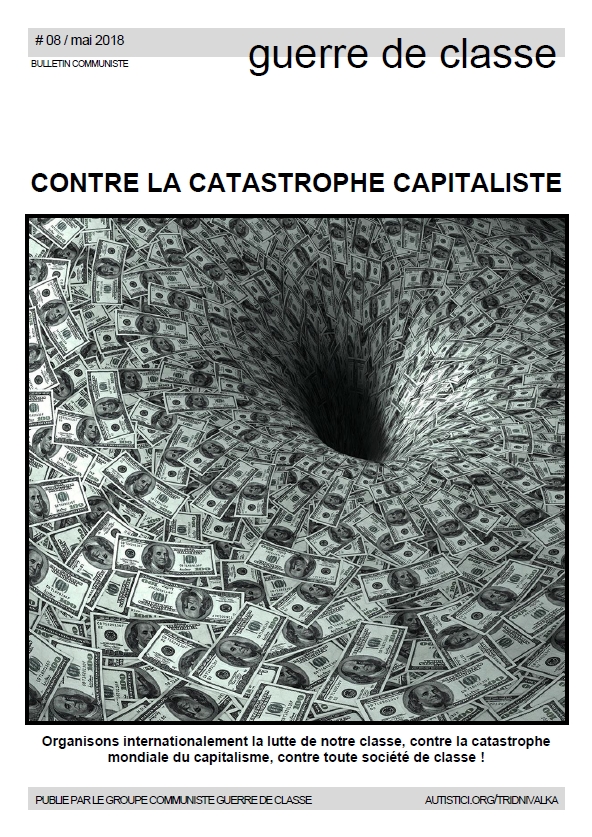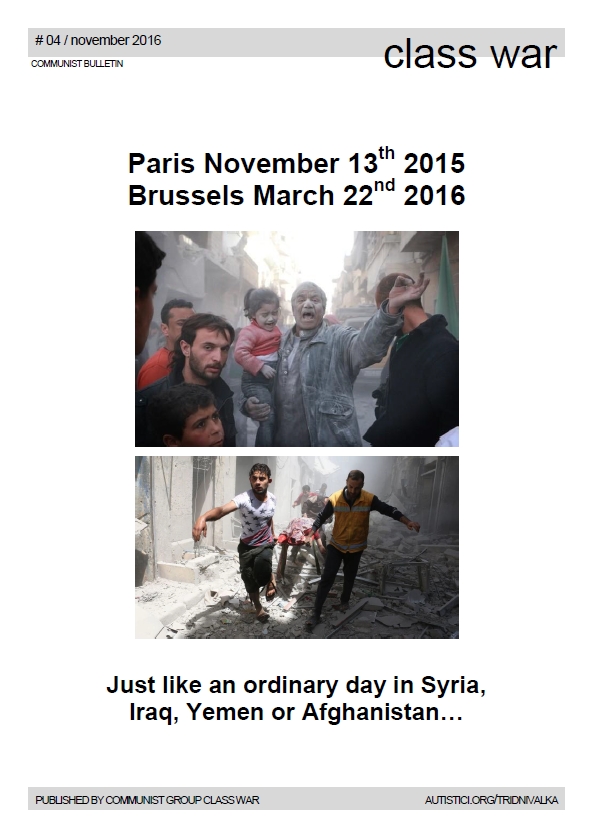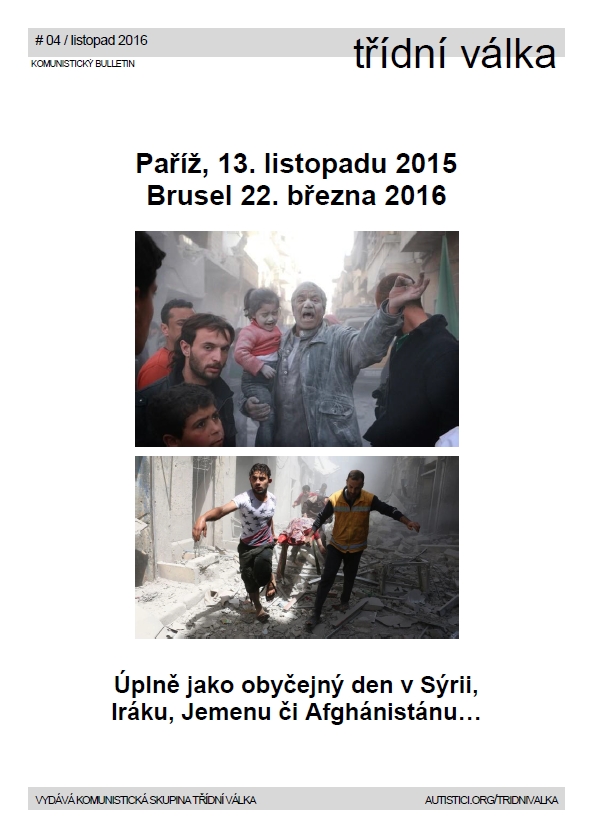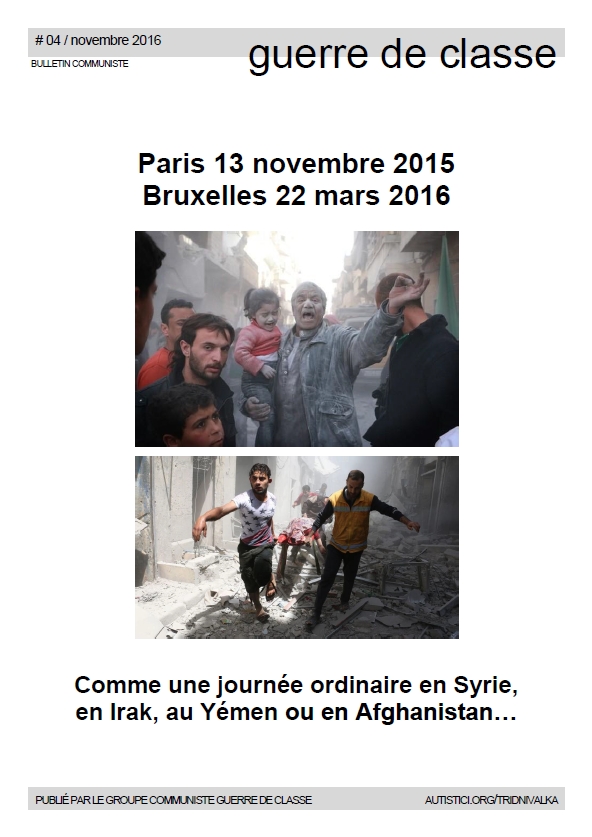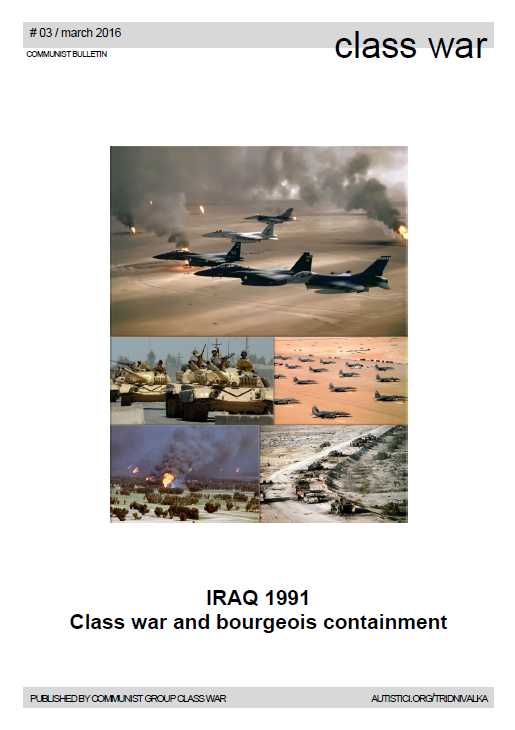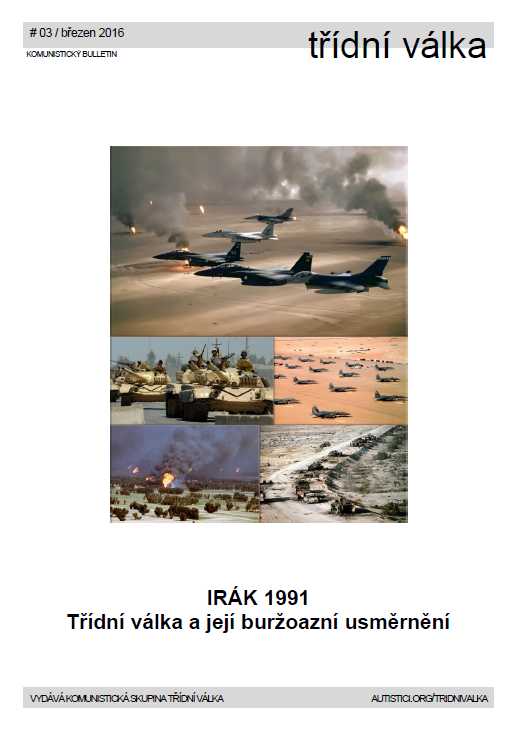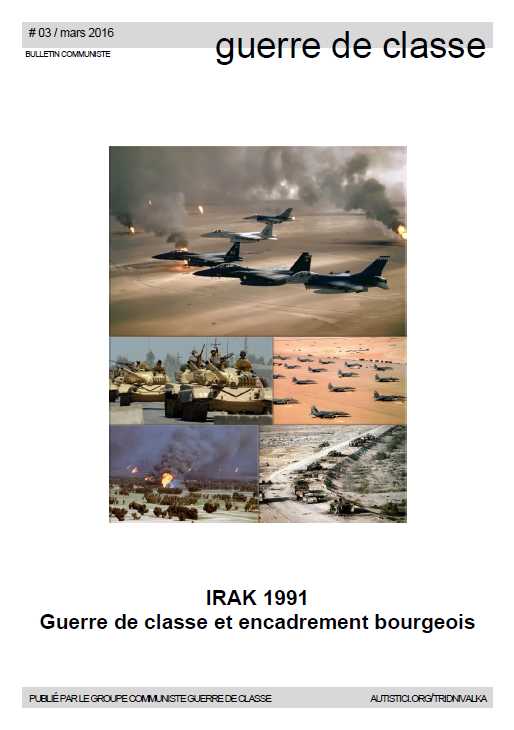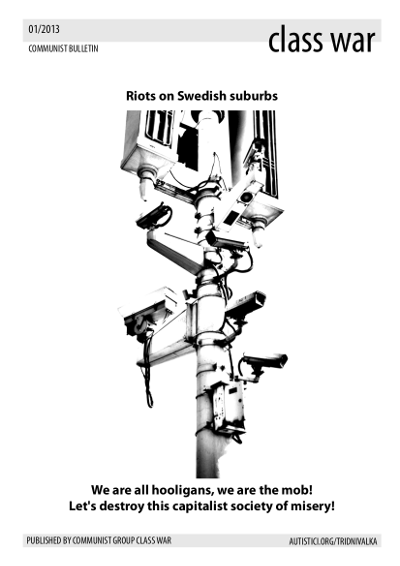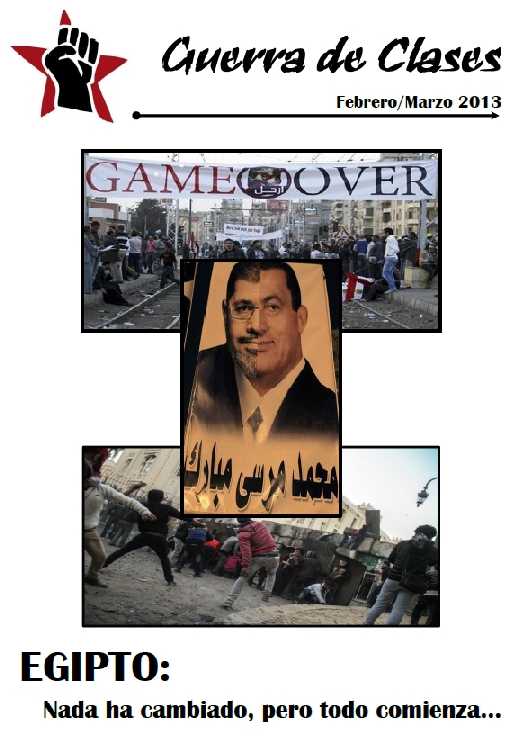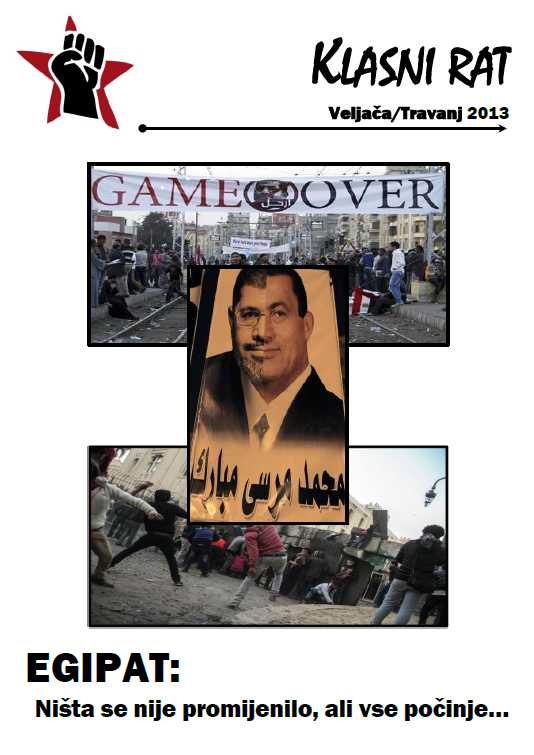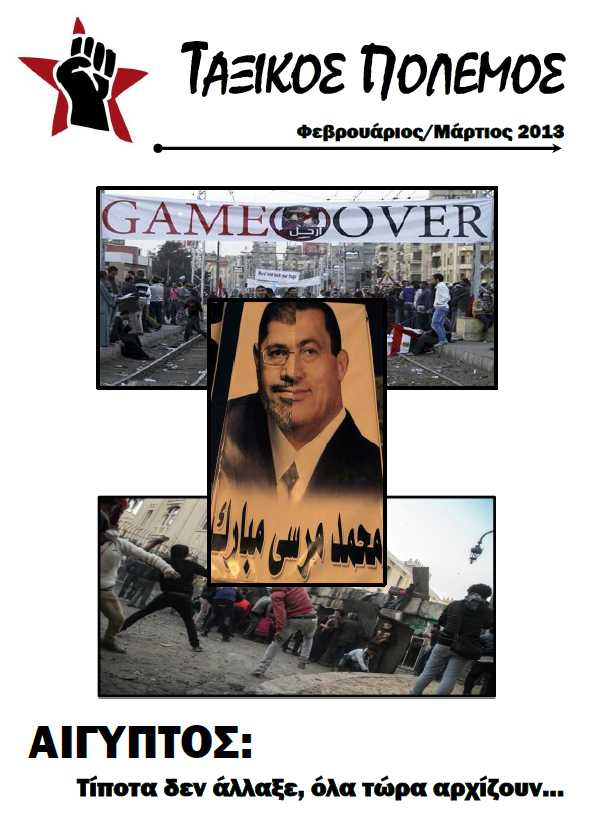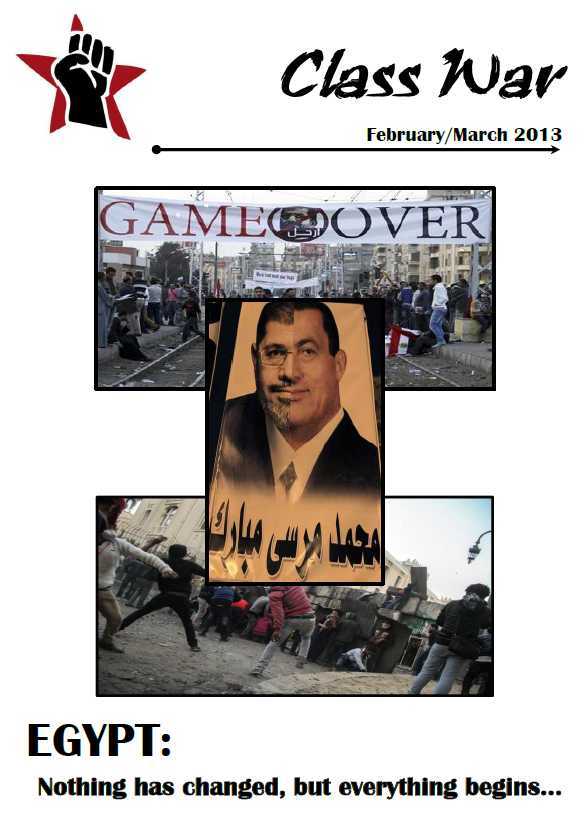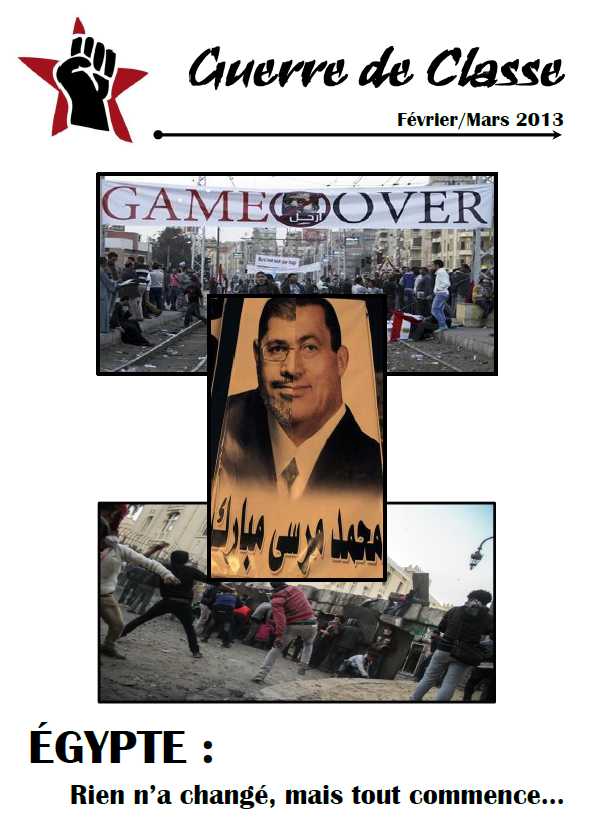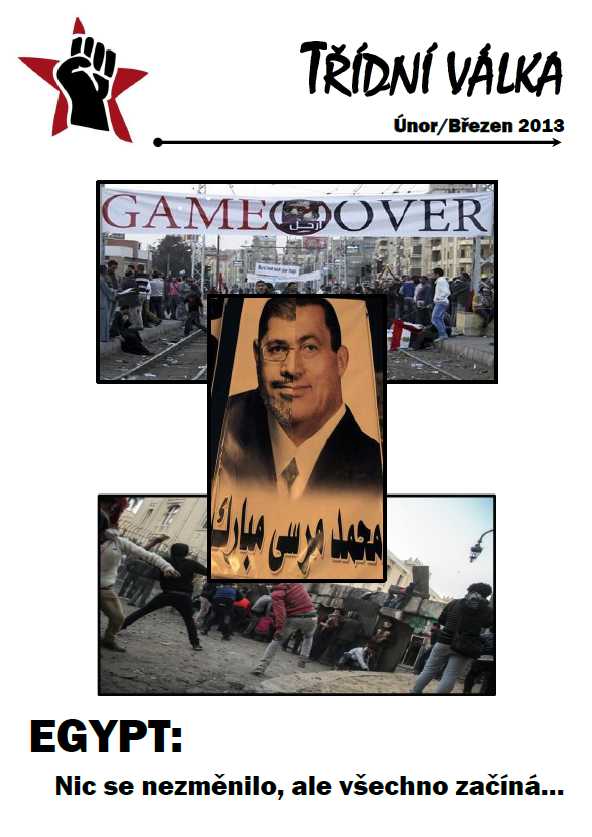| Español | English | Français | Eλληνικά | Deutsch | Português |
- As pandemias do capital
- Os fantoches do capital
As pandemias do capital
É difícil escrever um texto como esse agora. No contexto atual, no qual o coronavírus tem quebrado – ou ameaçado fazer isso em breve – as condições de vida de muitos de nós, o único que você deseja é sair pra rua e tocar fogo em tudo, com a máscara se for preciso. A situação o merece. Se a economia está por cima de nossas vidas, tem sentido retrasar a contenção do vírus até o último momento, até que a pandemia seja inevitável. Também tem sentido que quando já não se possa parar o contágio e tenha que perturbar – o mínimo imprescindível – a produção e distribuição de mercadorias, sejamos nós os que somos demitidos, os que somos forçados a trabalhar e os que somos confinados em cárceres e centros de internamento de estrangeiros, os que somos obrigados a eleger entre a doença e o contágio dos seres queridos ou a morrer de fome na quarentena. Tudo isso, com aclamações patrióticas e chamadas a unidade nacional, com a disciplina social como o mantra dos verdugos, com elogios ao bom cidadão que abaixa a cabeça e cala. O único que desejamos em momentos como estes é arrebentar tudo.
E essa raiva é fundamental. Mas também o é compreender bem por que está acontecendo tudo isto: compreendê-lo bem para pelejar melhor, para lutar contra a própria raiz do problema. Compreendê-lo para que quando tudo estoure a raiva individual se converta em potência coletiva, para saber como utilizar essa raiva, para terminar realmente, sem contos, sem desvios, com esta sociedade de miséria.
O vírus não é só um vírus
Desde seu início, a relação do capitalismo com a natureza (humana e não humana) tem sido a história de uma catástrofe interminável. Isso está na lógica de uma sociedade que se organiza através do intercambio mercantil. Está na mesma razão de ser da mercadoria, na qual pouco importa seu aspecto material, natural, somente importa a possibilidade de obter dinheiro por ela. Em uma sociedade mercantil, o conjunto das espécies do planeta, está subordinado ao funcionamento dessa máquina cega e automática que é o capital: a natureza não humana não é mais que um fluxo de matérias-primas, um meio de produção de mercadorias, e a natureza humana é a fonte de trabalho a explorar para tirar do dinheiro mais dinheiro. Todo o material, todo o natural, todo o vivo está a serviço da produção de uma relação social – o valor, o dinheiro, o capital – que se tem autonomizado e precisa transgredir os limites da vida permanentemente.
Mas o capitalismo é um sistema prenhe de contradições. Cada vez que tenta superá-las, somente adia e intensifica a crise seguinte. A crise social e sanitária criada pela expansão do coronavírus concentra todas elas y expressa a putrefação das relações sociais baseadas no valor, na propriedade privada e no Estado: seu esgotamento histórico.
A medida que este sistema avança, a concorrência entre capitalistas impulsiona o desenvolvimento tecnológico e científico e, com ele, uma produção cada vez mais social. Cada vez o que produzimos depende menos de uma pessoa e mais da sociedade. Depende menos da produção local, arraigada a um território, para ser cada vez mais mundial. Também depende cada vez menos do esforço individual imediato e mais do conhecimento acumulado ao longo da história e aplicado eficazmente na produção. Mas tudo isso é feito, mantendo suas próprias categorias: embora a produção é cada vez mais social, o produto do trabalho segue sendo propriedade privada. E não simplesmente: o produto do trabalho é mercadoria, ou seja, propriedade privada destinada ao intercambio com outras mercadorias. Este intercambio é possível pelo fato de que ambos produtos contem a mesma quantidade de trabalho abstrato, de valor. Essa lógica, que constitui as categorias básicas do capital, é posta em questão pelo próprio desenvolvimento do capitalismo, que reduz a quantidade de trabalho vivo que requer cada mercadoria. Automatização da produção, expulsão do trabalho, queda dos lucros que podem obter os capitalistas da exploração desse trabalho: crise do valor.
Esta profunda contradição entre a produção social e a apropriação privada se concretiza em toda uma série de contradições derivadas. Uma delas, que temos desenvolvido mais amplamente em outros momentos, é o papel da terra no esgotamento do valor como relação social. O desenvolvimento do capital tende a criar uma demanda cada vez mais forte do uso do solo, o qual faz que seu preço – a renda da terra – tenda a aumentar historicamente. Isto é lógico: quanto mais se incrementa a produtividade, mais descende a quantidade de valor por unidade de produto e, por tanto, tem que produzir mais mercadorias para obter os mesmos lucros que antes. Como cada vez tem menos trabalhadores na fábrica e mais robôs, maior volume de matérias-primas e recursos energéticos requer a produção. A demanda sobre a terra, por tanto, se intensifica: mega mineração, desmatamento, extração intensiva de combustíveis fosseis são as consequências lógicas desta dinâmica. Por outro lado, a concentração de capitais conduz por sua vez a concentrar grandes massas de força de trabalho nas cidades, o que empurra a que o preço da moradia nas cidades aumente permanentemente. Daí também as piores condições de vida nas metrópoles, a superlotação, a poluição, o aluguel e a moradia que consome uma parte cada vez maior do salário e a jornada de trabalho que se prolonga indefinidamente pelo transporte.
A agricultura e a pecuária se encontram de cara com estes dois grandes competidores pelo solo, o setor ligado ao aproveitamento da renda urbana e o ligado a extração de matérias primas e energia. Se as explorações agrícolas ou pecuárias se encontram na periferia da cidade, talvez seu lote de terra seja mais rentável para a construção de um prédio, de um condomínio ou de um polo industrial ao que convêm por logística a proximidade da metrópole. Se estiverem mais afastadas, mas seu pedaço de terra contem minerais uteis e demandados na produção de mercadorias ou, pior ainda, alguma reserva de combustíveis fosseis, também não poderão realizar-se nesse terreno que o capital destina a fins mais suculentos [1]. Se querem se manter no mesmo lugar e continuar pagando a renda, haverão de incrementar a produtividade como o fazem os capitalistas industriais. Além disso, tem o estímulo do aumento incessante de bocas urbanas para alimentar. A agroindústria e a consequência lógica dessa dinâmica: só incrementando a produtividade, utilizando maquinaria automatizada, produzindo em monocultivos, fazendo um uso cada vez maior de químicos – fertilizantes e agrotóxicos na agricultura, produtos farmacêuticos na pecuária –, inclusive modificando geneticamente plantas e animais, é possível produzir os ganhos suficientes num contexto no qual a renda da terra aumenta sem parar.
Tudo isto é necessário para contextualizar a emergência das pandemias. Como muito bem explicam os companheiros de Chuang, el coronavírus não é um fato natural alheio as relações capitalistas. Porque não se trata somente da globalização, ou seja, das possibilidades exponenciais de expansão de um vírus. É a própria forma de produzir do capital a que fomenta a aparição de pandemias.
Em primeiro lugar, para poder fazer mais rentáveis a agricultura e a pecuária é necessário implantar formas de produção muito mais intensivas, muito mais agressivas para o metabolismo natural. Quando se amontoam muitos membros de uma mesma espécie – os porcos por exemplo, uma das possíveis fontes de COVID-19 e a fonte segura da gripe A (H1N1) que apareceu em 2009 nos EUA – em granjas industriais, seu modo de vida, sua alimentação e a aplicação permanente de fármacos sobre seus corpos debilita seu sistema imunológico. Não há resiliência no pequeno ecossistema que constitui uma população muito numerosa da mesma espécie, comprometida imunologicamente e amontoada em espaços reduzidos. Ainda mais, esse ecossistema é um campo de treinamento, um lugar predileto para a seleção natural dos vírus mais contagiosos e virulentos. Tanto mais, se esta população tem uma alta taxa de mortalidade, como acontece nos matadouros, já que a rapidez com que esta é capaz de transmitir o vírus determina sua possibilidade de sobreviver. Só é questão de tempo que algum desses vírus consiga ser transmitido e que persista em um hóspede de outra espécie: um ser humano, por exemplo.
Agora, digamos que esse ser humano seja um proletário e viva, como os porcos do exemplo anterior, amontoado numa moradia pouco salubre com o resto da sua família, vá ao trabalho amontoado num vagão de trem, de metrô, ou num ônibus onde é difícil respirar no horário de pico e tenha o sistema imunológico debilitado pelo cansaço, a má qualidade da comida, a poluição do ar e da água. O aumento permanente do preço da moradia, do transporte, os trabalhos cada vez mais precários, a má alimentação, definitivamente a lei da miséria crescente do capital fazem também, muito pouco resiliente a nossa espécie.
A busca de uma maior rentabilidade e competitividade da agricultura no mercado mundial também tem seus efeitos na proliferação de epidemias. Temos o bom exemplo da epidemia do Ebola que se estendeu por toda a África ocidental em 2014-2016, a que precedeu a implantação de monocultivos para o óleo de palma: um tipo de plantação pela qual morcegos – a fonte da cepa que produz o brote – se sentem muito atraídos. O desmatamento da floresta, em virtude não só da exploração agroindustrial, mas também da indústria madeireira, da mega mineração, força muitas espécies de animais – e a algumas populações humanas – a adentrar-se cada vez mais na floresta ou a manter-se nas suas proximidades, expondo-se a portadores do vírus como morcegos (Ebola), mosquitos (Zika) e outros hóspedes reservatório – ou seja, portadores de patógenos – que se adaptam as novas condições estabelecidas pela agroindústria. Além disso, o desmatamento da floresta, reduz a biodiversidade que faz da floresta uma barreira para as cadeias de transmissão de patógenos.
Embora a fonte mais provável do coronavírus seja a caça e a venda de animais selvagens, vendidos no mercado de Hunan na cidade de Wuhan, isto não está desconectado do processo descrito acima. A medida que a pecuária e a agricultura industrial se estendem, empurram aos caçadores de alimentos selvagens a penetrar cada vez mais na floresta em busca da sua mercadoria, o que aumenta as possibilidades de contágio com novos patógenos e portanto a sua propagação nas grandes cidades.
O rei nu
O coronavírus deixou o rei nu: as contradições do capital são enxergadas e sofridas em toda a sua brutalidade. O capitalismo é incapaz de gestionar a catástrofe que se deriva destas contradições, por que só pode escapar delas resolvendo-as momentaneamente para que estourem com maior virulência mais tarde.
Para identificar esta dinâmica, essencial para a história do capitalismo, podemos fixar a mirada na tecnologia. A aplicação do conhecimento tecnocientífico à produção é talvez um dos elementos que mais tem caraterizado este sistema. A tecnologia é usada para aumentar a produtividade com o fim de extrair um ganho acima da media, de tal maneira que a empresa que produz mais mercadorias que seus competidores com o mesmo tempo de trabalho pode escolher entre reduzir um pouco o preço das mesmas para ganhar espaço no mercado ou mantê-lo e ganhar algo mais de dinheiro. No entanto, enquanto seus competidores aplicam melhoras semelhantes e todos tem o mesmo nível de produtividade, os capitalistas se deparam com o fato de que no lugar de obter mais ganhos, tem ainda menos do que antes, por que tem mais mercadorias que colocar no mercado – o que em condições de concorrência baixará seu preço – e proporcionalmente menos trabalhadores para explorar. Isto quer dizer, que o que tinha se presentado num primeiro momento como uma solução, a aplicação de tecnologia para aumentar a produtividade, se converte rapidamente no problema. Esse movimento lógico é permanente e estrutural no capitalismo.
O desenvolvimento da medicina e da farmacologia segue esse mesmo movimento. O capitalismo não pode evitar, desde seus mais puros começos, enfermar a sua população. Só pode tentar desenvolver o conhecimento médico e farmacológico para compreender e controlar as patologias que ele mesmo favorece. Em troca, na medida em que as condições que nos fazem adoecer não desaparecem, senão que inclusive aumentam com a crise cada vez mais pronunciada deste sistema, o papel da medicina se inverte e pode funcionar como um combustível para a doença. O uso de antibióticos não somente na espécie humana, senão também na pecuária, fomenta a resistência das bactérias e anima a aparição de cepas cada vez mais difíceis de combater. Ocorre de forma semelhante com as vacinas para os vírus. Por um lado, acostumam chegar tarde e mal na emergência de uma epidemia, visto que a própria lógica mercantil, as patentes e os segredos industriais, assim como e a negociação das empresas farmacêuticas com o Estado retrasam sua pronta aplicação na população infectada. Por outro lado, a seleção natural faz com que os vírus tenham que estar cada vez mais preparados para superar essas barreiras, favorecendo a aparição das novas cepas Para as quais ainda não se conhecem vacinas. O problema, portanto, não está no desenvolvimento do conhecimento médico e farmacológico, mas na medida em que se mantêm umas relações sociais que produzem permanentemente a doença e facilitam sua rápida expansão, este conhecimento somente animará a aparição de cepas cada vez mais contagiosas e virulentas.
Da mesma forma que o desenvolvimento tecnológico e médico encobre uma forte contradição com as relações sociais capitalistas, assim ocorre também com a contradição entre o plano nacional e internacional do próprio capital.
O capitalismo nasce já com um certo caráter mundial. Durante a Baixa Idade Média foram se desenvolvendo redes de comércio a longa distância que, somadas ao novo impulso da conquista do continente americano, permitiram a acumulação de uma enorme massa de capital mercantil e usurário. Esta serviria de trampolim para as novas relações que estavam emergindo com a proletarização do campesinato e a imposição do trabalho assalariado na Europa. A peste negra que assolou o continente europeu no século XIV foi precisamente fruto dessa mundialização do comércio, produzindo-se a partir de comerciantes italianos provenientes da China. Logicamente, o sistema imunológico das diferentes populações naquela época estava menos preparado para sofrer doenças de outras regiões, e a intensificação dos laços a nível mundial facilitou uma expansão das epidemias tão grande quanto amplas foram as redes comerciais. São um bom exemplo disso, as epidemias que levaram os colonizadores e que acabaram com a maior parte da população indígena em grandes zonas de América.
Estas redes de comércio mundiais serviram, paradoxal e contraditoriamente, para animar a formação de burguesias nacionais. Dita formação foi aparelhada ao esforço de vários séculos para homogeneizar um só mercado nacional, uma só língua nacional, um só Estado e, com eles, dois séculos nos quais se sucederia uma guerra atrás da outra sem cessar, até o ponto de que não houve apenas uns anos de paz na Europa durante os séculos XVI e XVII. O caráter mundial do capital é inseparável da emergência histórica da nação e, com ela, do imperialismo entre as nações.
Esse duplo plano em permanente contradição, o estreitamento dos laços a nível mundial com o enraizamento nacional do capitalismo, se expressa com toda a sua força na situação atual com o coronavírus. Por um lado, a globalização permite que patógenos de diversas origens possam migrar desde os reservatórios selvagens mais isolados aos centros de população do mundo todo. Por exemplo, o vírus da Zika foi detectado em 1947 na floresta da Uganda, onde recebeu seu nome, mas somente se desenvolveu quando o mercado mundial da agricultura e Uganda passou a ser um dos seus eslabões que o Zika conseguiu chegar ao Norte de Brasil em 2015, ajudado, sem dúvida, pelos monocultivos de soja, algodão e milho na região. Um vírus, que diga-se de passagem, o câmbio climático – outra consequência das relações sociais capitalistas – está ajudando a estender: o mosquito portador do Zica e da dengue – o mosquito tigre nas suas duas variações, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus – tem chegado a zonas como a Espanha devido ao aquecimento global. Além disso, a internacionalização das relações capitalistas é exponencial. Desde a epidemia do outro coronavírus, o SARS-CoV, entre 2002 e 2003 na China e no sudeste asiático, a quantidade de vôos provenientes destas regiões por todo o mundo tem se multiplicado por dez.
Assim, o capitalismo promove a aparição de novos patógenos que seu caráter internacional expande com rapidez. No entanto, é incapaz de gestioná-los. Na disputa imperialista entre as principais potências não cabe a coordenação internacional que requerem umas relações sociais cada vez mais globais e, menos ainda, a coordenação que já está requerendo esta pandemia. O caráter inerentemente nacional do capital, por muito mundializado que se queira, implica que os interesses nacionais no contexto da luta imperialista prevalecem frente a todo tipo de consideração internacional para o controle do vírus. Se China, Itália ou Espanha, retrasaram até o último momento a tomada de medidas, como mais tarde o fizeram França, Alemanha ou os EUA, é precisamente porque as medidas necessárias para conter a pandemia consistiam na quarentena dos infectados e, chegada certa taxa de contágio, na paralisação parcial da produção e distribuição de mercadorias. Num contexto no qual havia já dos anos que ia se larvando a crise econômica que estourou agora, em plena guerra comercial entre China e os EUA e no curso de uma recessão industrial, esse tipo de paralisação não se podia permitir. A decisão lógica dos funcionários do capital foi então a de sacrificar a saúde e umas quantas vidas entre o capital variável – seres humanos, proletários – para aguentar um pouco mais o rojão e manter a competitividade no mercado mundial. Que tenha se revelado não somente ineficaz, senão inclusive contraproducente não exime de lógica essa decisão: a uma burguesia nacional, sensível somente as subidas e quedas do seu próprio PIB, não pode ser exigida uma filantropia internacional. Isso tem que deixá-lo para os discursos da ONU.
A grande contradição que tem sinalizado o coronavírus é essa: a do PIB, a da riqueza baseada no capital fictício, a de uma recessão constantemente postergada a base de injeções de liquidez sem nenhum fundamento material no presente.
O coronavírus tem deixado nu o rei, e tem mostrado que em realidade nunca saímos da crise de 2008. O mínimo crescimento, o posterior estancamento e a recessão industrial dos últimos dez anos não tem sido mais que a resposta apenas sensível de um corpo em coma, um corpo que só tem sobrevivido graças a emissão permanente de capital fictício. Como explicávamos antes, o capitalismo é baseado na exploração do trabalho abstrato, sem o qual não pode obter ganhos, e apesar disso pela sua própria dinâmica se vê empurrado a expulsar trabalho da produção de maneira exponencial. Esta fortíssima contradição, esta contradição estrutural que atinge suas categorias mais fundamentais, não pode ser superada senão, agravando-a para mais tarde mediante o crédito, ou seja, o recurso a expectativa de ganhos futuros para seguir alimentando a máquina no presente. As empresas da “economia real” não tem outra forma de sobreviver que não seja fugindo permanentemente para frente, obtendo créditos e mantendo altas as ações na bolsa de valores.
O coronavírus não é a crise. Simplesmente é o detonante de uma contradição estrutural que vinha se expressando há décadas. A solução que os bancos centrais das grandes potências deram para a crise de 2008 foi continuar fugindo e utilizar os únicos instrumentos que tem a burguesia atualmente para afrontar a putrefacção das suas próprias relações de produção: massivas injeções de liquidez, ou seja, crédito barato a base de emissão de capital fictício. Esse instrumento, como é natural, apenas serviu para manter a bolha, posto que ante a ausência de uma rentabilidade real as empresas utilizavam essa liquidez para recomprar suas próprias ações e continuar aumentando a dívida. Assim, hoje em dia a dívida em relação ao PIB mundial tem aumentado quase um terço desde 2008. O coronavírus simplesmente tem sido o sopro que derruba o castelo de areia.
Ao contrário do que proclama a social-democracia, segundo a qual nos encontraríamos nesta situação por que o neoliberalismo tem deixado via livre, a cobiça dos especuladores de Wall Street, a emissão de capital fictício – ou seja, de créditos que se baseiam em ganhos futuros que nunca chegaram a produzir-se – é o necessário órgão de respiração artificial deste sistema baseado no trabalho. Um sistema que pelo desenvolvimento de uma altíssima produtividade, cada vez tem menos necessidade do trabalho para produzir riqueza. Como explicávamos anteriormente, o capitalismo desenvolve uma produção social que se choca diretamente com a propriedade privada na qual se baseia o intercambio mercantil. Nunca temos sido tão espécie como agora. Nunca estivemos tão vinculados mundialmente. Nunca a humanidade se reconheceu tanto, e se necessitado tanto a nível mundial, independentemente de línguas, culturas e barreiras nacionais. E apesar disso o capitalismo, que tem construído o caráter mundial das nossas relações humanas, somente pode afrontá-lo afirmando a nação e a mercadoria, e negando nossa humanidade, somente pode afrontar a constituição da nossa comunidade humana mediante sua lógica de destruição: a extinção da espécie.
Hobbes e nós
Uma semana antes de que este texto fosse escrito, na Espanha decretaram o estado de alarma, a quarentena e o isolamento de todos nós, salvo se é para vender nossa força de trabalho. Medidas semelhantes foram tomadas na China, na Itália, e tem se tomado já nessa altura na França. Sozinhos, nas nossas casas, a uma distância de um metro de cada pessoa que encontramos na rua, a realidade da sociedade capitalista se faz presente: só podemos nos relacionar com os outros como mercadorias, não como pessoas. Talvez, a imagem que melhor expressa isto são as fotografias e os vídeos que tem circulado pelas redes sociais desde o início do isolamento: milhares de pessoas amontoadas em vagões de trem e de metrô, de caminho ao trabalho, enquanto os parques e as vias públicas estão fechados a qualquer pessoa que não possa apresentar uma boa desculpa as patrulhas policiais. Somos força de trabalho, não pessoas. O Estado tem isso muito claro.
Neste contexto, temos visto aparecer uma falsa dicotomia baseada nos dois polos da sociedade capitalista: o Estado e o indivíduo. Em primeiro lugar foi o indivíduo, a molécula social do capital: as primeiras vozes que se fizeram ouvir ante o alerta de contágio foram as de “salve-se quem puder”, as de “morram os velhos e cada um que faça o que puder”, e as das culpas de uns aos outros por tossir, por fugir, por trabalhar, por não fazê-lo. A reação primeira foi a ideologia espontânea desta sociedade: não se pode pedir a uma sociedade que se constrói sobre indivíduos isolados que não atue como tal. Frente a isto e ao caos social que estava se produzindo, houve um alívio geral ante a aparição do Estado. Estado de alarme, militarização das ruas, controle das vias de comunicação e trasporte, salvo para o que é fundamental: a circulação de mercadorias, incluída em especial a mercadoria força de trabalho. Diante da incapacidade de organizar-nos coletivamente frente a catástrofe, o Estado se revela como ferramenta de administração social.
E não deixa de ser isso. Uma sociedade atomizada precisa de um Estado que a organize. Mas isto o faz reproduzindo as causas da nossa própria atomização: a do ganho frente a vida, as do capital frente as necessidades da espécie. Os modelos do Imperial College de Londres preveem 250.000 mortes no Reino Unido e até 1,2 nos EUA. As previsões a nível mundial, contando com o contágio dos países menos desenvolvidos e com uma infraestrutura médica muito mais precária, chegaram previsivelmente a milhões de pessoas. Contudo, a epidemia do coronavírus poderia ter sido detida muito antes. Os Estados que tem sido o foco da pandemia tem atuado como tinham que fazê-lo: colocando por cima os lucros empresariais durante ao menos mais umas semanas, frente ao custo de milhões de vidas. Em outro tipo de sociedade, em uma sociedade regida pelas necessidades da espécie humana, as medidas de quarentena tomadas ao seu devido tempo poderiam ter sido pontuais, localizadas e rapidamente superadas. Mas não é assim numa sociedade como esta.
O coronavírus está expressando em toda sua brutalidade as contradições de um sistema moribundo. De todas as que tentamos descrever aqui, esta é a mais essencial: a do capital frente a vida. Se o capitalismo está apodrecendo pela sua incapacidade de enfrentar suas próprias contradições, somente nós como classe, como comunidade internacional, como espécie humana, podemos acabar com ele. Não é uma questão cultural, de consciência, mas uma pura necessidade material que nos empurra coletivamente a lutar pela vida, por nossa vida em comum contra o capital.
E o momento para fazê-lo, mesmo sendo só o início, já tem começado. Muitos estamos já em quarentena, mas não estamos isolados, nem sozinhos. Estamos nos preparando. Como os companheiros que tem se levantado na Itália e na China, como os que já levam um tempo de pé no Irã, no Chile e em Hong Kong, nós vamos em direção a vida. O capitalismo está morrendo, mas somente como classe internacional, como espécie, como comunidade humana, poderemos enterrá-lo. A epidemia do coronavírus tem derrubado o castelo de areia, tem deixado o rei nu, mas somente nós podemos reduzi-lo a cinzas.
[1] A substituição dos combustíveis fosseis por energias renováveis não resolve o problema, muito ao contrário: as energias renováveis requerem superfícies muito maiores para produzir níveis inferiores de energia.
Fuente: http://barbaria.net/2020/04/16/as-pandemias-do-capital/
Os fantoches do capital
Há de tudo para todos os gostos. Num dos extremos, estão as versões mais espectaculares, em que Trump terá introduzido o coronavírus na China, de forma a ganhar a guerra comercial. Ou que terá sido a China a fazê-lo para que se propagasse nos restantes países, ser o primeiro país a recuperar desta crise e dominar o mundo. Ou que terão sido directamente os governos dos seus próprios países, preocupados com a questão das pensões, que aplicaram a típica solução malthusiana para se verem livres da maioria dos velhos. O outro extremo, mais subtil e também muito mais generalizado em certos meios de comunicação social, afirma que a gravidade do coronavírus, se não é uma invenção mediática, pelo menos está a ser conscientemente exagerada pela burguesia para aumentar o seu controlo repressivo sobre nós. Afinal, a gripe comum mata mais pessoas. Não será suspeito que os governos declarem estados de emergência, levem o exército para a rua, aumentem as patrulhas policiais e emitam enormes multas por uma doença que não atinge o número anual de mortos da gripe comum? Seja como for, há aqui qualquer coisa de estranho.
É lógico que no capitalismo surjam discursos e formas de pensar como estas. São ideologias que emanam espontaneamente das relações sociais organizadas em torno da mercadoria. Todas elas se baseiam, numa última análise, na ideia de que todos nós seríamos marionetas subjugadas às decisões de um grupo todo-poderoso que, conscientemente, gerem as nossas vidas em prol do seu próprio interesse. Esta ideia subjacente, que parece ser apenas atribuída a teorias de conspiração, está de facto generalizada: é o fundamento da própria democracia.
Os dois corpos do rei
A forma como nos relacionamos numa sociedade organizada pela mercadoria é algo muito particular. Inédito na história, aliás. É a primeira e última forma de organizar a vida social que nada tem que ver com as necessidades humanas. É claro que antes do capitalismo havia sociedades de classe porém, mesmo nessas, a exploração era organizada de modo a satisfazer as necessidades – no seu sentido lato – da classe dominante. No capitalismo, a burguesia apenas se mantém como classe dominante enquanto for uma boa funcionária do capital. Nenhum burguês poderá sê-lo se não obtiver lucros não só para o seu consumo, que é um efeito colateral, mas para os voltar a investir como capital: dinheiro que gera dinheiro que gera dinheiro. Valor inchado de valor, em constante movimento. Quando falamos do fetichismo da mercadoria, assistimos a uma relação impessoal em que não importa quem a exerce – um burguês, um antigo proletário que vingou, uma cooperativa, um Estado – porque o importante é que a produção de mercadorias persista numa roda automática que não pode parar de girar. A actual pandemia mostra-nos o que acontece quando se ameaça parar a roda.
Contudo, esta dinâmica impessoal provoca uma curiosa inversão. A relação social básica do capitalismo é a seguinte: duas pessoas só se reconhecem uma à outra na medida em que são proprietárias de coisas. Se essa coisa é capital, dinheiro disposto a ser investido na exploração de mão-de-obra, então o seu possuidor será um capitalista. Se se tratar de um terreno ou dos seus derivados – uma urbanização, por exemplo -, o seu proprietário será um rentista. Se for dinheiro destinado à compra de bens para consumo, então o seu detentor será um consumidor respeitável. Se essa coisa for um corpo, mãos, inteligência, uma actividade finalmente pronta para ser vendida, os bens estarão na posse da mão-de-obra e o possuidor será um proletário. A posição social do detentor da mercadoria muda consoante o tipo de mercadoria. Assim, o ser humano é definido pelo que possui, no sentido em que o que a sua propriedade está destinada à troca. Os bens criam as relações sociais no capitalismo.
E, no entanto, a impressão que o detentor da mercadoria tem é bastante diferente. Na sua perspectiva individual e imediata, é ele quem decide. O proprietário absoluto, um sujeito consciente e livre, se quiser pode vender ou não vender, investir, consumir ou atirar ao mar a mercadoria que tem nas suas mãos. É o próprio fundamento da propriedade privada: o direito de usar e abusar do que se possui. E isto faz dele o soberano todo-poderoso dos seus bens. A palavra não é escolhida ao acaso: a soberania, conceito fundador da democracia e da nação, tem como base esta relação material entre produtores privados de bens. Também o idealismo, voluntarismo e a separação radical entre natureza e cultura. Na relação capitalista, o indivíduo é rei. Ou, pelo menos, assim ele o crê.
Portanto, o capitalismo tem dois órgãos. Um imortal, impessoal, o das perpétuas produção e reprodução do capital, e o outro mortal, fugaz, efémero: o dos indivíduos que o encarnam. O capitalismo é sempre impessoal, mesmo que personalizado. Os seus indivíduos podem crer que o gerem – e é lógico que o façam, já que a própria relação material que estabelecem entre si leva-os a pensar assim -, mas só o farão na medida em que sirvam para alimentar a máquina impessoal do capital. Esta é a curiosa inversão produzida pelas relações mercantis: ao mesmo tempo que são geridas por uma lógica inconsciente e automática, lógica esta que obedecem quer a entendam quer não, os indivíduos pensam em si próprios como o sujeito da História.
As Marionetas
Quando nos dizem que a burguesia estaria a organizar-se para promover o pânico com o coronavírus; para criar um estado de opinião policial disposto a aceitar qualquer violação das liberdades civis e assim aumentar o seu poder sobre a sociedade, é feita uma concessão a esta ideologia democrática e a burguesia é transformada em algo que não é.
Antes de mais, a burguesia não é um organismo unitário. Pelo contrário, a lógica da concorrência capitalista só lhe permite agir como um só corpo em momentos específicos, quando se vê obrigada a fazê-lo pela organização da classe do proletariado. Só em momentos como este é que a burguesia deixa de competir entre si pela maior fatia e nos confronta em bloco. Há muitos exemplos históricos disso: desde os mais antigos, como quando a Prússia deixou de combater a burguesia francesa para poder esmagar a Comuna de Paris; aos mais modernos, como as tréguas entre Bush e Saddam Hussein, durante a Primeira Guerra do Golfo, para que Saddam pudesse reorientar momentaneamente os seus bombardeiros contra deserções maciças, revoltas e agrupamentos de trabalhadores no Norte e no Sul do Iraque. Na maioria do seu tempo, a burguesia vive fragmentada e em luta permanente, um caos social que só moderadamente pode ser organizado no jogo de facções em constante mudança dentro do Estado.
Por outro lado, o principal objectivo da burguesia enquanto classe dominante não é o controlo social. Esta é uma consequência inevitável do seu verdadeiro objectivo: o crescimento do PIB, o que implica naturalmente a gestão de uma sociedade dividida em classes e a eventual repressão do proletariado quando este protesta contra a sua exploração. O Estado não é um monstro autoritário que esteja à caça da primeira oportunidade para aumentar o seu poder sobre nós. Esta é a visão burguesa e democrática do Estado: daí vem a implementação de toda uma série de mecanismos de controlo democrático para o impedir de exceder as suas funções, uma memória antiga de um Estado absolutista que ainda não era totalmente governado pela lógica impessoal do capital. Face o declínio brutal do PIB que se espera com a crise sanitária do coronavírus, podemos assumir que o Estado não está muito satisfeito por ter de mobilizar as suas forças repressivas para garantir a quarentena. Ousamos, de facto, assumir que a classe dominante era muito mais feliz quando as pessoas desempenhavam livremente o seu papel na circulação de bens – o dos trabalhadores e consumidores, como Deus manda.
É que o Estado e os seus políticos não passam de fantoches. Não marionetas da burguesia, como se tem dito, já que isso seria trocar um marionetista por outro. Não: ambos não passam de fantoches com diferente papéis, que contudo não deixam de participar no teatro do capital. Se não o desempenharem bem, terão de fazer mutis para o fórum. As teorias da conspiração, cada uma mais original do que a anterior, têm a mesma base que a do jogo democrático: a ideia de que os indivíduos determinam a História e que um grupo de indivíduos devidamente posicionados – seja o Clube Bilderberg ou o Gabinete dos Estados Unidos – pode usar o seu livre arbítrio para gerirem as nossas vidas como bem entenderem. Daí também as discussões intermináveis sobre quem será o mal menor nas próximas eleições: na eventualidade de alguém não se aperceber da crise actual, não importa se o partido no poder é de esquerda ou de direita. Tentarão fazer algo distinto para justificar a diferença de acrónimos, mas farão exactamente o mesmo porque a função determina o órgão, e a sua função é clara: a gestão da catástrofe capitalista, que se está a tornar cada vez mais forte, cada vez mais brutal.
Porque o coronavírus é uma expressão disso mesmo. Não é a crise, porque a crise é a do capital e as suas categorias estruturais, como já explicámos noutras ocasiões. Mas também não se trata de uma gripe comum. Na altura em que se escreve este texto, morrem cinco vezes mais pessoas em Madrid do que nos dias respectivos do ano passado. Os hospitais estão sobrelotados em todo o país. Perante a escassez de equipamento respiratório, vai-se deixando morrer pessoas a partir de determinada idade. As morgues e os cemitérios já não são adequados. Não se trata de uma gripe comum. A crise de saúde, económica e social que o coronavírus despertou é, de uma forma mais profunda e real, a expressão de relações sociais que vão apodrecendo por dentro e que continuarão matando se não lhes pusermos fim. Estamos fartos de o dizer: o verdadeiro dilema, o único possível, é a revolução comunista ou a extinção da espécie. A pandemia é, infelizmente, uma demonstração inigualável.
Impotência?
Nenhum indivíduo, nem mesmo um grupo deles, é o sujeito da História. O indivíduo é apenas uma partícula no fluxo de duas forças sociais contraditórias. São elas que se movem, e os indivíduos, quer saibamos ou não, movem-se segundo uma ou outra. São duas correntes de água, ou melhor, como duas placas tectónicas: a sua fricção crescente levará, mais cedo ou mais tarde, a um terramoto.
Não será maniqueísmo. Um único indivíduo pode mover-se num e depois no outro, e viver nessa contradição até a polarização social dividir as águas e se encontrar de um lado da barricada. Uma destas forças afirma a preservação da ordem existente. É o partido da ordem, como descrito por um companheiro. O outro desdobra-se como um verdadeiro movimento que questiona o presente estado das coisas: é o comunismo, que nada tem que ver com ideologia ou com uma proposta desejável para o futuro, apenas é a emergência de relações sociais que já se estão a desenvolver e a lutar para se imporem contra a podridão do capital.
Nestas semanas, vimos ambas as forças sociais expressarem-se. Por um lado, a unidade nacional e a disciplina social: os aplausos diários das varandas aos trabalhadores da saúde, esses grandes heróis nacionais que, como todos os heróis nacionais, estão a ser usados como carne para canhão no jogo dos peões do capital. Também se vê espionagem pelas janelas, relatando à polícia aqueles que saem à rua mais de duas vezes, apupando pessoas que estão acompanhadas, independentemente do motivo. Isto acontece, embora também não possamos exagerar. Numa perspectiva histórica, muito mais forte foi a pressão sobre as potências ocidentais para se alistarem na Primeira Guerra Mundial ou muito mais para lutarem contra o fascismo e pela democracia capitalista durante a Segunda Guerra Mundial. Não nos encontramos numa situação contra-revolucionária como a do pós-guerra, em que a defesa do capital foi assumida por grande parte do proletariado.
Por outro lado, vemos surgir expressões de apoio mútuo e de solidariedade para com outrém. Urbanizações, os bairros, mesmo as pequenas cidades organizam-se para fazer compras, conversar e apoiar emocionalmente pessoas que necessitam nestas duras condições de quarentena. Todos nós o percebemos: existe a constante necessidade de falar, de nos ajudarmos uns aos outros, de partilharmos o que está a acontecer e de reflectirmos juntos. Além disso, as greves no Brasil, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, nos Camarões, para não falar de Itália, onde se verificam pilhagens aos supermercados, e os tumultos, como em Hubei, multiplicam-se com uma sincronicidade global que confirma uma dinâmica cada vez mais internacional das nossas lutas de classe. Ao contrário da crise de 2008, que nos apanhou a todos mais isolados, presos ao choque, nesta nova crise não há autoculpabilização, um termos vivido além das nossas possibilidades, um aperto do cinto, que é o que está em causa: pelo contrário, há uma consciência muito clara de que estamos a ser enviados para o matadouro para preservar o bom funcionamento da economia nacional.
Não há nada que nos possa dizer se um movimento de luta irá surgir agora, após a quarentena ou dentro de três anos. Porque não existe uma relação mecânica entre a violência exercida pelo capital e o momento em que nos levantamos como classe. É impossível prever quando será a gota de água, mas uma coisa é certa: a questão está longe de ser uma acção individual, nem dos maléficos que nos lideram, nem dos benevolentes que nos querem salvar. Não se trata simplesmente disso. Existem duas placas tectónicas, duas forças opostas que estão a aumentar a tensão do seu impulso. Não sabemos quando virá o terramoto. O que é certo é que para nos prepararmos quando ecluda passa por compreender a gravidade do momento histórico que estamos a viver. De novo, uma vez mais e outra vez: a única escolha que vale a pena fazer é entre a revolução e a extinção da espécie. E a nossa escolha já está feita.
Fuente: http://barbaria.net/2020/04/28/os-fantoches-do-capital/